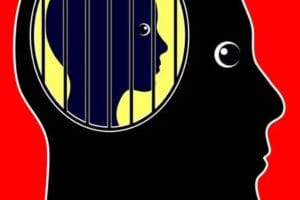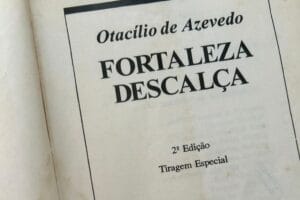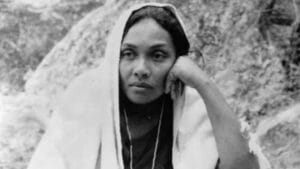O romance Frankenstein, publicado por Mary Shelley em 1818, atravessou gerações em incontáveis adaptações, algumas fiéis à obra original, outras que reinventam a trama com liberdade criativa, e tantas mais que apenas incorporam elementos ou referências ao seu universo. Falar de todas é humanamente impossível.
E embora a imagem do monstro criado por Victor Frankenstein seja frequentemente associada à icônica interpretação de Boris Karloff em Frankenstein (1931), dirigido pelo gênio James Whale, uma releitura igualmente memorável ganhou vida pelas mãos da Hammer Films.
Famosa por sua prolífica série de filmes de Drácula estrelados por Christopher Lee, a produtora britânica também deixou um marco expressivo com a saga do Barão Frankenstein, interpretado por Peter Cushing, em sete filmes lançados entre 1957 e 1974.

O ponto de partida foi A Maldição de Frankenstein (1957). Naquele ano, a Hammer deu início a uma verdadeira revolução no horror gótico, resgatando o clima sobrenatural e as raízes literárias do gênero, já enfraquecidos após o desgaste do ciclo de monstros da Universal Pictures, tradicional estúdio norte-americano.
Essa trajetória nos Estados Unidos havia começado com Drácula (1931), imortalizado por Bela Lugosi, cujo desempenho marcante acabou, anos depois, transformando-se em paródia, destino semelhante ao de outros intérpretes de criaturas do estúdio.
Em contrapartida, A Maldição de Frankenstein, como primeiro título da nova franquia, destacou-se pela ousadia de apresentar o horror em cores vibrantes, combinando uma violência gráfica inédita com o humor sombrio que se tornaria a assinatura da Hammer.

Consequentemente, a franquia do Barão Frankenstein passou a ocupar um lugar especial dentro do estúdio. Enquanto a série de Drácula oscilava em qualidade e passava por diferentes diretores, quase todos os filmes do Barão foram comandados por Terence Fisher, considerado o principal cineasta da era de ouro da Hammer.
Essa continuidade garantiu à saga uma identidade visual e temática marcante, ainda que a cronologia entre os longas fosse, muitas vezes, deixada de lado.
Além disso, Peter Cushing teve a oportunidade de explorar plenamente as múltiplas facetas do Barão Frankenstein, transitando com naturalidade entre a frieza científica, o charme calculista e a crueldade absoluta, muito mais do que Christopher Lee, cujo Drácula, apesar de memorável, aparecia com menor frequência nas tramas.
Importante destacar que na clássica versão de Frankenstein (1931), dirigida por James Whale, o protagonista era Henry Frankenstein, uma adaptação do nome Victor, provavelmente para soar menos “inglês” ao público norte-americano. Colin Clive teve espaço para mostrar seu talento como o personagem título, mas a lembrança que permanece na mente do público é, sem dúvida, a do Monstro, vivido por Boris Karloff.
Na abordagem da Hammer, entretanto, a lógica se inverte: é Peter Cushing quem domina a tela, brilhando em todas as nuances do personagem, enquanto a criatura assume um papel secundário, funcionando mais como instrumento da narrativa do que como ícone central.
Essa união de direção consistente, interpretação brilhante e narrativa audaciosa resultou em uma série que manteve, a cada filme, um alto padrão de qualidade e uma identidade única dentro do cinema de terror.
Confira agora reflexões sobre os dois primeiros filmes:
A Maldição de Frankenstein (1957)

Se você esperava uma adaptação fiel ao livro de Mary Shelley ou algo próximo ao clássico de 1931 da Universal, prepare-se para se surpreender, e isso é, na verdade, um ponto positivo. Embora a comparação seja inevitável, é fascinante ver como os britânicos imaginaram a criatura décadas depois do filme de Boris Karloff, utilizando cores vibrantes e uma sonoplastia mais sofisticada.
Dito isso, assim como aconteceu com Drácula um ano depois, é preciso desfazer um equívoco comum: a Hammer nunca teve como meta produzir adaptações literárias rigorosas. O estúdio sempre preferiu reinventar os clássicos góticos, preservando seu espírito, mas acrescentando ritmo, dinamismo, humor e novas ideias, sem se prender às páginas originais ou aos filmes anteriores.
Isso vale plenamente para A Maldição de Frankenstein, que não tenta reproduzir a trama de Mary Shelley. A essência, porém, está lá: o cientista obcecado em desvendar e controlar o segredo da vida a partir da morte, enquanto a criatura feita de pedaços de cadáveres se torna apenas uma das muitas possibilidades narrativas que a Hammer exploraria nos filmes seguintes.
Para começar, a interpretação de Christopher Lee como a criatura, papel que, junto a Drácula no ano seguinte, o consagraria como estrela do horror, é completamente diferente da icônica performance de Boris Karloff, uma diferença que, por si só, já marca um ponto decisivo.
Além disso, os orçamentos da Hammer impediam locações grandiosas, e a Universal detinha os direitos do visual criado por Jack Pierce e imortalizado por Karloff. Isso obrigou o diretor Terence Fisher a evitar qualquer referência direta aos filmes do estúdio norte-americano, buscando soluções criativas que não colocassem a empresa britânica em risco legal.
Dessa necessidade surgiu uma ideia central: deslocar o foco da narrativa para o próprio Victor Frankenstein, agora um barão e recuperando seu nome original, em contraste com o “Henry” da versão dos anos 30. Essa mudança não apenas contornava as restrições, como também oferecia a Peter Cushing a liberdade de explorar ao máximo as camadas do personagem, tornando-o o verdadeiro protagonista da história.
Logo, o desenvolvimento do Barão é brilhante: acompanhamos sua trajetória desde a infância até a fase adulta, completamente consumido pela obsessão de criar vida, sutilmente sugerida pela ausência dos pais, mortos quando ele ainda era criança.
Enquanto no livro e no filme de 1931 Frankenstein busca criar o monstro para atingir um poder quase divino, simbolizado pelo icônico “Ele está vivo!”, o Victor de Cushing expressa essa ambição de forma mais contida e impactante.
Sua determinação se revela pelo corpo, pelos gestos e pelo silêncio, refletindo a solidão de uma vida marcada pela ausência de afeto genuíno, mesmo na presença do amigo e mentor Paul, cuja relação é mais funcional do que afetiva, algo que se evidencia na sequência final, quando Victor é abandonado à guilhotina.
Assim, o monstro assume um papel secundário, enquanto o protagonista humano se torna infinitamente mais fascinante do que na obra original ou no filme de 1931.
Para os fãs do romance, no entanto, essa inversão pode parecer estranha a princípio. Mas, uma vez superada a resistência, é impossível não se impressionar com a atuação de Cushing, que constrói um Victor ambicioso, calculista e capaz de atos brutais para atingir seus objetivos.
Longe do estudante romântico de Shelley, este Barão é um sujeito frio, com lampejos de entusiasmo científico e uma completa ausência de empatia, inclusive pela própria criação. Sua presença magnética supera a de outros personagens do filme, reforçando a moral ambígua característica do horror gótico.
Nesse contexto, A Maldição de Frankenstein funciona perfeitamente como ponto de partida. Pioneiro e inventivo, o filme aproveita o Technicolor para intensificar o impacto visual, alia uma direção inspirada a um roteiro dramático de grande força e estabelece os alicerces de uma saga memorável, que consolidaria a Hammer como referência do horror gótico. Um belíssimo primeiro passo.
A Vingança de Frankenstein (1958)

O estrondoso sucesso do primeiro Frankenstein da Hammer garantiu, sem demora, uma continuação, e, de quebra, resolveu a dúvida deixada no final: teria Victor Frankenstein escapado da guilhotina? Não chega a ser um deslize, mas a decisão inevitavelmente enfraquece a força poética do desfecho original. É o mesmo que aconteceu com Aliens: um filme excelente, mas que, ao responder o mistério de Alien – O Oitavo Passageiro, retirou parte de seu impacto.
Em A Vingança de Frankenstein, Peter Cushing retorna ao papel com ainda mais segurança, agora livre do peso de seguir à risca o romance de Mary Shelley. Curiosamente, não há vingança alguma, o barão sequer cruza o caminho de seu antigo rival, Paul. A trama, apesar disso, começa exatamente onde o filme anterior terminou, algo raro na franquia.
Sob o disfarce de “Dr. Stein”, Victor atua como cirurgião em um hospital para pobres na cidade de Carlsbruck, aproveitando o acesso a corpos de pacientes à beira da morte para dar continuidade a seus experimentos. Ao seu lado está o jovem médico Hans e Karl, um assistente com deficiência física que se oferece para ter seu cérebro transplantado para um corpo “perfeito”, construído a partir de partes humanas.
A narrativa, como resultado, segue por um rumo pouco explorado no gênero, dado que o ser criado por Frankenstein não é uma figura disforme e costurada, mas um corpo completo. Essa escolha confere ao filme uma atmosfera distinta, afastando-o do grotesco tradicional e aproximando-o de um drama científico sobre os limites de tentar alcançar a divindade.
O horror, por fim, não se sustenta em figuras assustadoras ou cenas grotescas, mas na inquietude de testemunhar uma trajetória fadada à tragédia, onde a ciência ousa ultrapassar uma barreira que jamais deveria ter sido rompida.
Dito isso, é preciso deixar claro que A Vingança não é tão bom quanto A Maldição, mas igualmente relevante, não só para o período e gênero, mas para os dias de hoje também. Com toda certeza merece a sua curiosidade.