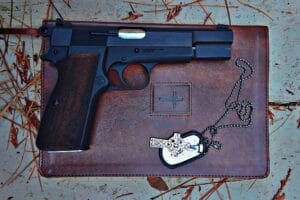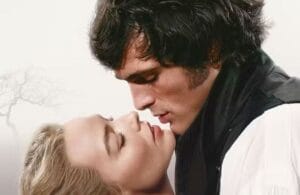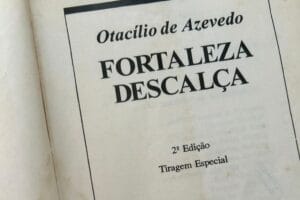Lembro da primeira vez que vi o filme A mosca (1986), no canal a cabo A&E (Entreguei a minha idade?). Meu pai assistia pois gostava desses filmes, digamos, estranhos como O homem elefante (1980) e Veludo Azul (1986). Ele conferia todos na sala de casa, e talvez nem soubesse quem eram os realizadores dessas obras, mas algo ali me marcou profundamente. Anos depois, já sabendo alguma coisa sobre o que é assistir filmes, descobri David Cronenberg, e nunca mais o perdi. Dessa forma, perdoem-me os leitores, mas esse texto está permeado de emoção e deleite, só não haverá dor, fato marcante de sua obra.
David Cronenberg é uma das vozes mais singulares e provocativas do cinema contemporâneo. Sua obra se estrutura em torno de uma obsessão recorrente: o corpo como fronteira instável entre o humano, o tecnológico e o monstruoso. Cineasta canadense cuja carreira se consolidou entre as décadas de 1970 e 2000, é difícil encontrar uma pessoa que olha a um filme de Cronenberg e não reconhece logo, o tanto que seu trabalho é autoral. Não poucas são as vezes que até um “Cronenbleeergh” é escutado. Isso tudo se deve ao caminho que o diretor escolheu defender desde o começo de sua produção: o horror corporal, ou body horror para os íntimos, é utilizado não apenas como elemento de choque, mas como dispositivo filosófico. É o simbolismo que impera aqui, e isso não é necessariamente ruim ou difícil de compreender.
Desde seus primeiros filmes, como Calafrios (1975) e Enraivecida na Fúria do Sexo (1977), Cronenberg demonstra um fascínio pela mutação da carne e pelo colapso das fronteiras do corpo. O horror não está no exterior, mas na interioridade biológica que se rebela. Em Os filhos do medo (1979), por exemplo, o trauma psicológico se manifesta fisicamente, e em Videodrome (1983), a mídia penetra literalmente o corpo, criando uma fusão perversa entre carne e tecnologia. Rapidamente, lembrei do que Deleuze e Guattari escreveram em seus Mil Platôs, ressaltando que “o corpo sem órgãos” é um campo de intensidades e fluxos, algo que é mais do que vívido nos personagens de Cronenberg, cujos corpos se tornam territórios invadidos, moldados e transformados por pulsões internas e externas.

A filmografia de Cronenberg lá atrás já antecipa muitas de nossas preocupações hoje, ou não diremos que o pós-humanismo é um tema que o autor trabalha tão bem? A Mosca (1986) e eXistenZ (1999) são fortes exemplos disso, na medida em que abordam diretamente a fusão entre organismo e máquina. N’A Mosca, a experiência científica fracassada de Seth Brundle é uma metáfora pungente para os limites da razão iluminista diante da potência incontrolável do corpo. Já em eXistenZ, a interface entre realidade virtual e corpo físico questiona o próprio estatuto da realidade, exalando Jean Baudrillard, para quem a simulação já não representa o real, mas o substitui.
A sexualidade também é um ponto a se destacar nos filmes de Cronenberg, pois ela é desviante, ambígua e muitas vezes inquietante. Em Crash: Estranhos prazeres (1996), adaptação da obra de J.G. Ballard, o desejo se desloca para a mutilação, os acidentes e a fusão com o automóvel. A carne ferida torna-se objeto erótico. Slavoj Žižek (2001), no livro The Fright of Real Tears, observa que o cinema de Cronenberg nos força a confrontar o real lacaniano — o que está para além da simbolização — justamente ao perturbar os limites entre prazer, dor e identidade. A sexualidade “cronenberguiana” não busca representar o desejo normativo, mas escancarar suas fissuras e perversões.
Não era meu interesse deixar esse texto/ensaio/ode teórico, mas pelo visto…
Se você já assistiu a algum filme de Cronenberg deve ter percebido também que o filme é uma espécie de parque de diversões, um laboratório de transgressão, onde os corpos são experimentados e os limites da representação são levados ao extremo. Sua estética é muitas vezes clínica, fria, cirúrgica. Há uma busca por objetividade mesmo quando o tema é o grotesco. Em Gêmeos – Mórbida Semelhança (1988), por exemplo, os irmãos ginecologistas compartilham pacientes e uma perturbação psíquica crescente, muito naquilo que a crítica de cinema Linda Williams, no livro Hard Core, aponta como o excesso e a visceralidade visual que desafiam o olhar tradicional e geram uma nova forma de recepção: não apenas ver, mas sentir o que se vê. Cronenberg domina essa arte do desconforto visual.
Ao longo da obra de Cronenberg, o sujeito moderno é constantemente desconstruído. A ideia de um “eu” estável e racional é subvertida por forças corporais, tecnológicas e psíquicas. Até mesmo em um filme mais palatável para todos os públicos, Um Método perigoso (2011), Cronenberg revisita os primórdios da psicanálise para mostrar que a racionalidade é um verniz frágil sobre pulsões arcaicas. A construção do sujeito, nesse sentido, é sempre inacabada e ameaçada, a identidade é performativa e sujeita a rupturas, e os personagens que habitam o universo “cronenberguiano” são justamente essas ruínas.
Essa reflexão sobre a identidade fragmentada, aliás, é uma questão que o diretor tem abordado em suas obras mais recentes. Crimes do Futuro (2022) retoma o body horror em sua forma mais explícita, apresentando um mundo em que a mutação orgânica deixou de ser ameaça e se tornou espetáculo artístico. O corpo, agora aberto e vulnerável, é palco de uma estética da cirurgia e da metamorfose contínua. A dor desaparece e, com ela, o limite entre vida e performance: o humano passa a existir como obra em processo, ecoando as ideias deleuzianas do corpo sem órgãos e o fascínio baudrillardiano pela simulação.
Já em The Shrouds (2024), sem data de lançamento no Brasil, ao que tudo indica, radicaliza o diálogo entre corpo, memória e tecnologia no filme que acompanha um homem obcecado em vigiar a decomposição do cadáver da esposa por meio de uma tecnologia de transmissão em tempo real. Aqui, a questão da carne é atravessada pela impossibilidade do luto: o corpo morto não repousa, mas retorna como imagem incessante, como espectro tecnológico.
O corpo permanece como ruína, e nos lembra que até a morte pode ser colonizada pela técnica.
Como já deu para perceber, os filmes de Cronenberg recusam dicotomias fáceis. O monstro não é o “outro” a ser eliminado, mas uma parte constituinte do humano. Em Senhores do Crime (2007), outro filme menos Cronenberg possível, o horror se desloca para a violência realista do crime organizado, mas permanece o traço da ambiguidade moral. O monstro, enfim, é simultaneamente atraente e repulsivo, como pontua Noël Carroll no livro The Philosophy of Horror; e é exatamente esse paradoxo que Cronenberg explora com maestria.
Considerado “insuportável” por críticos mais conservadores e “visionário” por estudiosos da cultura, seu cinema ainda resiste a classificações simplistas. Ao incorporar elementos do horror, da ficção científica e do drama psicológico, ele criou uma filmografia híbrida e transgressora que até hoje impacta outros cineastas, como as francesas Julia Ducournau e Coralie Fargeat e o inglês Jonathan Glazer. A crítica contemporânea, e você também deveria, tem reconhecido Cronenberg como um autor capaz de dialogar com as grandes questões do século XXI: a mutação, a identidade, o corpo e a tecnologia.
Por essas e por outras, é que David Cronenberg opera na intersecção entre a carne e o pensamento. A cada nova obra, ele propõe ao espectador uma travessia: sair da zona de conforto, penetrar no desconhecido e confrontar aquilo que há de mais visceral em nós. Seus filmes, embora muitas vezes incômodos, são uma das mais potentes formas de arte crítica produzidas nas últimas décadas. Mais do que representar o mundo, Cronenberg o dilacera, para que vejamos, em suas entranhas, os fragmentos do que chamamos de humano.