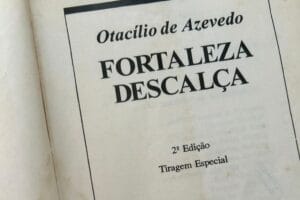“A guerra às drogas se assemelha a uma jogada de bumerangue amadora e sem estratégia, mas o objeto aqui é um montante bilionário de dinheiro público, que se volta contra a população, com impactos devastadores, principalmente para a juventude negra e periférica.” — Julita Lemgruber
Julita Lemgruber é uma das principais vozes críticas à chamada “Guerra às Drogas” no Brasil. Ela argumenta que essa política é ineficaz, seletiva e profundamente violadora dos direitos humanos, especialmente contra jovens negros e moradores das periferias.
Durante décadas, o Estado brasileiro adotou uma abordagem predominantemente punitiva para lidar com os narcóticos. Como é amplamente reconhecido, essa política falha, de forma irresponsável, em alcançar seus objetivos declarados. De acordo com dados do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC), a chamada Guerra às Drogas não apenas fracassa em reduzir o consumo e o tráfico, como também intensifica a violência urbana e o encarceramento em massa. Trata-se de uma estratégia estatal marcada pela seletividade penal, que criminaliza majoritariamente a juventude negra e periférica, ao mesmo tempo em que viola direitos fundamentais.

Ao impor uma lógica de repressão, o Estado abdica de seu papel em garantir liberdades individuais e, de forma perversa, passa a ditar quem pode (ou não) ter o direito à vida. Esse processo, sob a ótica da filosofia do camaronês Achille Mbembe, é a expressão concreta da chamada necropolítica, teoria que revela como o poder estatal se manifesta através da decisão sobre quem deve morrer e quais vidas são consideradas dignas de luto ou descartáveis.
Somente em 2023, a Guerra às Drogas custou R$ 7,7 bilhões aos cofres públicos, um valor alarmante que, diante da desigualdade social no Brasil, não se traduz em benefícios concretos para a população. Do total, mais de R$ 4,5 bilhões foram destinados apenas à Polícia Militar e ao Sistema Penitenciário, segundo levantamento do CESeC.
Apesar de todos os dados demonstrarem a ineficácia dessa “guerra”, ainda persiste um discurso falacioso promovido por políticos, especialmente em períodos eleitorais, que transforma a questão das drogas em palanque moralista. Trata-se de uma retórica populista que, em vez de enfrentar a complexidade do problema, recorre a simplificações e estigmas. São absurdos proferidos por representantes eleitos democraticamente, que, ao se revestirem de uma imagem de “salvadores da pátria”, alimentam uma narrativa distorcida sustentada por paralogismos e pelo medo, legitimando a violência estatal e a criminalização seletiva das populações vulneráveis.
A política antidrogas brasileira é, em grande parte, herdeira direta do discurso equivocado de Richard Nixon. Em 1971, o então presidente dos Estados Unidos declarou que o inimigo público número um dos americanos era o abuso de drogas (“America’s public enemy number one is drug abuse”). Essa declaração, profundamente enraizada no racismo e na moralidade conservadora, deu início à chamada War on Drugs. A escritora e ativista Michelle Alexander, em sua obra The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, revela como essa política foi utilizada como instrumento de controle racial nos EUA e como seus efeitos reverberam até hoje.
No Brasil, essa visão militarizada da política de drogas foi importada e adaptada a um contexto marcado por desigualdades históricas, racismo estrutural e violência policial. Como resultado, a “guerra às drogas” transformou-se, na prática, em uma guerra contra a periferia.
O falso moralismo, somado ao conservadorismo, acaba por demonizar aquilo que não compreende. Quanto mais rígidas são as medidas proibicionistas, maior é a fiscalização policial, e, por consequência, maior é o repasse de verbas públicas para sustentar essa estrutura. A ditadura militar foi um marco importante nesse endurecimento das políticas antidrogas no Brasil, e contribuiu diretamente para o crescimento da violência institucional.
Desde a promulgação da nova Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), o número de presos por tráfico aumentou 339%. Dados do Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional (Sisdepen) mostram que, em 2020, 32,39% da população carcerária brasileira estava presa por crimes relacionados a drogas, e, entre esses, 92,18% são homens.
Diante de todos esses dados, resta apenas uma saída racional: apoiar iniciativas que priorizem políticas públicas de saúde, educação e redução de danos. Em vez de insistir em um modelo punitivo que apenas reproduz violência e desigualdade, é urgente investir em estratégias que tratem o uso de drogas como uma questão social e de saúde pública, promovendo inclusão, prevenção e cuidado.
Diversos países vêm adotando políticas mais eficazes e humanas. Em Portugal, por exemplo, o consumo de drogas foi descriminalizado em 2001, com foco na redução de danos e na reabilitação. O país obteve avanços notáveis nos indicadores de saúde pública e segurança. Na Holanda, o consumo de cannabis é tolerado há quase 30 anos em coffeeshops regulamentados e a experiência mostra que a regulamentação não necessariamente aumenta o consumo, como sugerem os discursos alarmistas.
É urgente que o Brasil abandone políticas que não refletem a realidade social e ignoram os avanços científicos sobre o uso e a regulação de substâncias. Até que nos libertemos das amarras do fundamentalismo moral e da ignorância institucional, a Guerra às Drogas seguirá como uma expressão direta da necropolítica, uma política pública que legitima o extermínio de jovens negros e pobres sob o pretexto de combate ao tráfico, transformando favelas em zonas permanentes de guerra.
Por fim, é importante reforçar: criticar a Guerra às Drogas não significa ignorar os problemas do consumo e do tráfico, mas sim denunciar a falência de uma política que só multiplica tragédias. Se quisermos romper com esse ciclo, precisamos deslocar o debate da lógica do medo para a lógica do cuidado. Investir em saúde pública, educação e redução de danos é o único caminho viável para enfrentar, de fato, o problema das drogas, sem perpetuar a violência e a desigualdade que marcam o Brasil.